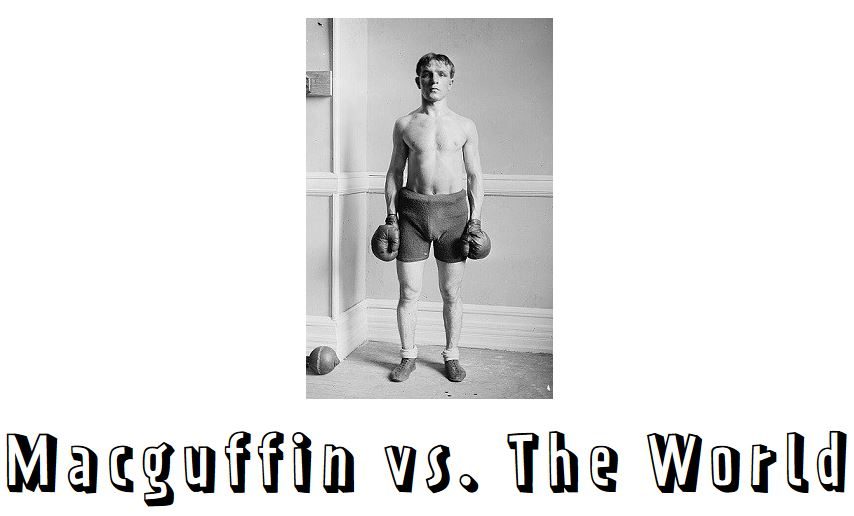[Entrevista]
Há uns tempos a The Atlantic fez um número especial sobre democracia, todo dedicado a tentar responder a uma pergunta: “estará a democracia a morrer?” Qual é a sua resposta?
Não. Pelo contrário, acho que a democracia se está a intensificar de dia para dia. Por exemplo: as causas do politicamente correto são causas democráticas. Primeiro, são causas libertárias, e nessa medida são individualistas, e, na medida em que são individualistas, são democráticas. Porque só se pode falar de valores se se presumir que um indivíduo equivale ao outro. Quando se fala em liberdades especiais e todas as causas do politicamente correto para uma expansão da liberdade –, do nascimento à morte, do aborto à eutanásia e testamento vital –, essas liberdades postulam uma igualdade e alargaram a liberdade do indivíduo.
Às vezes esquecemos que não há nada de inevitável na democracia, pelo contrário: as democracias liberais são sistemas recentes e a História é muito mais feita de regimes autoritários e iliberais.
E há as democracias iliberais. A democracia é em si mesma iliberal. Democracia e liberdade são duas realidades difíceis de conviver.
Apesar disso ainda nos surpreendemos de cada vez que vemos uma democracia tomar um rumo iliberal. Porque é que assumimos que uma democracia deve ser liberal?
Não sei… A democracia começou com o completo iliberalismo. Na Revolução Francesa, à medida que se foi estabelecendo a igualdade e a democracia, houve um caminho de restrição dos privilégios, nomeadamente o maior privilégio de todos, que era o privilégio da Igreja, que está na origem da alma do jacobinismo e da democracia. Houve uma luta contra o privilégio religioso, ou seja, pelo caráter secular do Estado, e por não haver limites à vontade da maioria. Na realidade a ideia é aplanar todos os obstáculos à vontade da maioria, e isso os ingleses perceberam logo. O Burke diz logo isso nas “Reflexões [Sobre a Revolução em França]”: se não há obstáculos sociais e institucionais à vontade da maioria, não há liberdade. Ponto final, parágrafo.
O Tocqueville depois apresenta o conceito de tirania da maioria como corolário disso…
Sim. Os liberais o que fazem é constituir obstáculos à vontade da maioria, como nós temos: separação de poderes, freios e contrapesos, uma série de obstáculos institucionais à vontade da maioria. Nesta coisa das redes sociais vê-se o que podem fazer as maiorias de ocasião, mesmo informais e inorgânicas.
A turba.
Sim, isso mesmo. As turbas que se juntaram nas ruas de Paris para cortar a cabeça a A ou B, às vezes sem lógica nenhuma.
As democracias liberais estão a saber lidar com os homens fortes iliberais que aproveitam os mecanismos existentes para subverter esses travões, esses freios e contrapesos, e minar o império da lei?
As democracias liberais nunca foram suficientemente fortes, e estão mais fracas, no sentido em que as novas tecnologias (e eu detesto este termo, mas à falta de melhor…), a internet e essas coisas, destroem as instituições. São a principal ameaça às democracias liberais.
Porquê? Pela velocidade, pelo imediatismo?
Sim, e pela comunicação e participação massiva e fácil. O problema é que não há filtros. No jornalismo há filtros, e muito bem, mas na internet não há filtros suficientemente fortes nem largos. E cada vez mais a opinião maioritária se forma à margem da opinião filtrada, ou erudita, e é eficaz, porque depois pouca gente se atreve a abrir o bico contra a ortodoxia reinante, mesmo quando discorda profundamente.
Tecnologias que à partida permitiriam mais acesso a informação e maior capacidade de participação seriam perfeitas para melhorar os mecanismos de uma democracia participativa.
Sim, se cada pessoa usasse essa tecnologia para ler um jornal online, ou para aceder a certo tipo de fontes de informação… mas em vez disso as pessoas comunicam umas com as outras, e mesmo a informação que começa certa acaba por se corromper. A desinformação é uma consequência disto tudo.
É também isso que está a erodir aquele terreno do meio onde as pessoas conseguiam chegar a consensos ou compromissos? Cada vez mais as posições estão extremadas e os entendimentos parecem mais difíceis.
Não tenho essa sensação de que as coisas estejam extremadas.
Não? Os discursos extremistas propagam-se cada vez com mais rapidez e têm cada vez mais força, minando os espaços de consenso.
As pessoas não votam nos extremismos por causa das coisas que leem nas redes sociais. As pessoas deixam é de aceitar as instituições. Por exemplo, rejeitam a sabedoria da universidade, porque têm a Wikipédia e podem ter acesso a muitos artigos, e copiar, e ter opiniões e ficar contentes com isso. Os professores que lhes dizem: “talvez seja bom ler uns livros durante uns anos antes de começar a dar opiniões”, são rejeitados e, pior, ignorados. Começa a haver outro universo ao lado deles. As instituições deixam de funcionar. O que é que os padres têm a dizer a alguém hoje em dia? As pessoas vão ao computador e confessam-se aos amigos que têm no Facebook. Tudo foi dessacralizado, até o sexo… É claro que eu acho que as causas do politicamente correto são boas causas, porque são causas de liberdade, mas não deixaram de destruir as instituições que havia.
Se calhar há um ponto de equilíbrio que ainda não encontrámos…
No Ocidente já não há.
Qual é a consequência disso?
É que o progresso tecnológico vai ser cada vez mais rápido, o progresso democrático vai ser cada vez mais rápido. Mas não o da democracia liberal. Não sei é como é que se vai fazer o equilíbrio entre a massa democrática que está a criar o politicamente correto e depois o próprio politicamente correto. O politicamente correto libertou – e fê-lo com um postulado fundamental: o respeito pela liberdade individual. E isso libertou uma enorme massa de indivíduos que não tinham liberdade individual. Eu não quero ser petulante nesta coisa do historiador, mas isto é mesmo muito recente para a gente perceber, mas intriga-me saber como é que esta afirmação do indivíduo nas causas do politicamente correto se pode compadecer com um regime democrático em que uma maioria manda de forma opressora. É uma massa, e não sabemos o que vai fazer essa massa.
Porque é mal informada e ignorante?
Não. Porque é uma massa. Chamar às massas ignorantes e berrar contra as fake news não é realista. Não é ignorante, nunca houve massa mais educada na história da humanidade, nunca teve tantos utensílios e tanta preparação. Mas a massa em si própria, por definição, não tem mecanismos de controlo.
Ao mesmo tempo que se aprofundam os direitos individuais onde existem democracias funcionais, também temos visto um retrocesso democrático em muitos outros países, onde a democracia é cada vez mais imperfeita, ou está mesmo posta em causa, e quase sempre esses processos começam com a eleição de líderes iliberais. Como encara estes fenómenos?
Há uma resistência aos impulsos liberais. Por razões políticas está-se a chamar populismo ao que é, de facto, nacionalismo. O nacionalismo na União Europeia é uma reação à UE, às vezes ambígua, porque uma causa nacional pode querer ao mesmo tempo beneficiar das ligações económicas à UE e depois recusar as ligações políticas e a parte da entrega de soberania. A UE está muito espantada com o crescendo do populismo porque não quer dar o nome às coisas – parece-me evidente que a integração europeia, a devolução da soberania para um centro decisório em Bruxelas, não é suportável para nacionalidades fracas, mal constituídas ou recentes.
Daí que o fenómeno nacionalista seja mais agudo no Leste da Europa?
Com certeza. A Europa reaviva as questões nacionais. No Ocidente, a Itália e a Espanha têm questões nacionais vivas. A Itália nunca teve uma nacionalidade bem constituída, é uma agregação de estados muito recente, do fim do século XIX. Foi em Nápoles que a Liga teve maior apoio eleitoral, porque a imigração veio chocar com uma nacionalidade fraca. A Hungria também sempre teve problemas de nacionalidade – primeiro, dependia do Império Austríaco; depois, entre as duas guerras, teve uma guerra civil prolongada; há problemas de fronteiras e de subordinação dos magiares aos alemães; e, depois, ficaram na esfera soviética e só recentemente é que são independentes.
A construção europeia nunca foi um processo democrático; foi tecnocrático e sempre decidido de cima para baixo. Por outro lado, Bruxelas limitou sempre a democracia dentro dos Estados, na medida em que se impõe a decisões internas. Essa ausência de democracia no processo de construção europeia, associada à interferência de Bruxelas na soberania dos Estados, era necessariamente a receita para o desastre?
Só não via quem não queria. Mas o desastre não vem bem daí. Vem de querer agregar nações que não são agregáveis. O facto de ser um processo pouco participado e pouco democrático é o resultado dessa impossibilidade de agregação, porque não se podem agregar Estados que têm vinte anos e que querem afirmar a sua nacionalidade, e para os quais isso prevalece contra a tendência de devolução da soberania para um centro que é uma burocracia francesa, que é o contrário de um Estado liberal. Essa entrega de partes de soberania para uma burocracia central que age em nome da “Europa”, em Estados com uma nacionalidade problemática ou fraca, cria uma tensão e as coisas fragmentam-se.
No caso dos países de Leste, também há a questão de pouca prática democrática, pois são todos democracias recentes.
Mas nós também somos uma democracia recente e não tivemos esses problemas.
É verdade. Olhando, por exemplo, para o caso da Hungria, tem havido um ataque a vários pilares do regime democrático e do Estado de Direito, e isso acontece dentro da UE. O que é que isso nos diz sobre a UE?
Significa que mais ou menos toda a gente na UE tem problemas nacionais, e eles não podem ter duas faces. Têm de chamar populismos aos nacionalismos, não podem reconhecer as verdadeiras causas das tensões e as verdadeiras causas dos populismos, porque quase todos têm problemas nacionais.
Porque é que nós nunca tivemos problemas com a democracia?
Porque temos uma nacionalidade absolutamente indiscutível.
Que correlação é essa entre nacionalidade bem afirmada e democracia?
Não é entre nacionalidade e democracia, é entre nacionalidade e entrega de parte da soberania nacional. Temos uma nacionalidade fortíssima, devemos ser a nacionalidade mais forte do mundo, sempre mais ou menos com as mesmas fronteiras, mais ou menos a mesma língua, a mesma religião – o que é que o nacionalismo português tenta reivindicar? Olivença? Não tem nada para reivindicar. A nossa nacionalidade nunca está em dúvida, se uma parte da soberania do Estado for devolvida a Bruxelas, não põe nada em causa, nenhum português fica com qualquer dúvida. O problema é que isso não acontece com os polacos – a Polónia foi feita com um bocado que a Rússia tirou à Alemanha… É evidente que o polaco tem uns problemas se começa a entregar soberania a Bruxelas. Começa por haver uma aceitação, porque eles querem ser aceites como europeus, mas por outro lado não querem entregar soberania.
Há uma excecionalidade portuguesa?
Há. Tem a ver com a nacionalidade. Já viu um povo perder um Império e continuar tão satisfeito como estava? As conversas nacionalistas pura e simplesmente não pegam connosco. Estamos tão confortáveis na nossa nacionalidade que é escusado. A não ser para dizer que o Ronaldo é o melhor do mundo, não há nacionalismo que pegue aqui. É por isso que a extrema-direita nunca vingou, mesmo com o Salazar. O Salazar meteu a extrema-direita na cadeia e proibiu a Legião Portuguesa de andar fardada nas ruas.
Temos sorte?
Não temos sorte, temos as condições. Temos as condições para uma democracia funcional, liberal. E o eleitorado português refugia-se sempre numa força, que é a força que dá estabilidade ao regime. Agora é o PS. A “geringonça” instaurou o PS como o grande árbitro do sistema. Ou seja, voltámos ao que o PS era no princípio. O Mário Soares governou assim muito tempo até o PCP se decidir a votar com a direita. E o António Costa vai governar até os dois extremos se decidirem a alinhar contra ele. O que será muito difícil – o que cair na asneira de se aliar à direita destrói-se.
Que balanço faz dos nossos 45 anos de democracia? O que é que a democracia mudou em nós enquanto povo?
O país democratizou-se, criou-se muito mais igualdade, mais distribuição de riqueza, mais educação. Socialmente, os portugueses mudaram muito, a sociedade mudou, está a morrer a sociedade antiga. A sociedade urbana antiga foi pulverizada e a rural está a desaparecer.
A grande mudança provocada pela democracia é o estado social?
A democracia traz o estado social, mas o estado social também é resultado da democracia. Não só uma melhor distribuição da riqueza, como todas as transformações fundamentais que decorrem da educação. Uma pessoa com o 12.º ano não é igual a uma pessoa com a quarta classe. E alguém com o curso superior não é igual a quem tem o 12.º ano – não é igual como pessoa, não estou a falar como “recurso humano”, como se diz. É uma das coisas que o Governo não percebeu: é que os enfermeiros têm um curso superior, não são um “recurso humano”, como antigamente. Isso torna a pessoa diferente, é constitutivo. E isso mudou a sociedade, porque as pessoas têm ambições diferentes, vistas diferentes, e sobretudo têm um sentimento muito maior da sua valia e dignidade. Desse ponto de vista é uma mudança absoluta.
E porque é que não torna as pessoas também mais participativas na vida política? A abstenção não para de subir, o desinteresse pela política parece ser cada vez maior…
Acho que a abstenção não é muito preocupante. As pessoas votam para garantir a segurança. Os portugueses têm a noção, mesmo que vaga, da fragilidade do país. O Passos Coelho e o Paulo Portas tiveram [em 2015] uma votação significativa, que não teriam em mais nenhum país da Europa. Ganharam as eleições. E porquê? Deram segurança e as pessoas têm medo de mudar. Quando se viu que eles não podiam formar Governo mas o António Costa podia fazer aquela aliança [com PCP e BE], o PS era o garante da segurança. Quando as pessoas são pobres, o maior valor é a segurança. Quando o Governo Passos-Portas caiu, quem ficou a garantir a segurança às pessoas foi o PS.
A segurança é o valor determinante no voto?
Sempre. É muito simples: as pessoas querem uma governação prudente, ou com aparência de prudência, que garanta a ordem e a segurança da sociedade. É isto.
Em países onde se têm imposto, democraticamente, líderes mais musculados, parece haver essa aspiração por ordem, mas também alguma fadiga da liberdade, porque a liberdade implica decisões, implica corresponsabilidade…
Não acho que haja uma fadiga de liberdade. O que se passa é que, quando as instituições democráticas não conseguem manter a ordem pública, estão condenadas. Veja o Brasil e o Bolsonaro: não havia ordem pública, as instituições democráticas não eram capazes de impor a ordem, e são até uma ameaça para a ordem pública, com a fragmentação partidária que há no Congresso, a corrupção total das instituições e a desordem nas ruas. Não é preciso grandes teorias. O problema da corrupção tem duas faces: uma são os dinheiros e os interesses envolvidos, mas isso é uma partícula dos dinheiros do Estado, sem peso nenhum; o que tem peso é a corrupção das instituições. A questão não é o Sócrates ter alegadamente roubado milhões, é ter posto o Estado ao serviço de uma ambição política que excedia as competências e os atributos que lhe eram dados pela Constituição. No Brasil aconteceu a corrupção das instituições, que desfigurou tudo: os cargos, os governos estaduais, o governo federal… Chegámos ao ponto em que o Brasil só podia ser governado pelo Partido dos Trabalhadores, que tinha uma certa organização, força e integridade, ou pelo Exército com as religiões evangélicas. E a escolha foi a que foi. Sempre à custa de uma diminuição da democracia, porque a República, enquanto tal, não existia.
Há quem veja o alheamento em relação ao exercício democrático como resultado do descontentamento da classe média, que sente que foi deixada para trás, seja pela crise económica pós-2008, seja pela globalização, ou pelas novas tecnologias, que permitem fazer mais com menos mão-de-obra.
Isso de fazer mais com menos gente é uma falácia marxista que continua a empatar o pensamento de toda a gente. Sobre inteligência artificial não sabemos nada, mas o que sabemos até agora é que o progresso tecnológico sempre exigiu mais mão-de-obra, e mais qualificada, o que é lógico, porque quanto mais complexos os sistemas, mais complexos são de gerir.
Também sabemos que a tecnologia acelerou a globalização, com mais deslocalização de indústrias, concentrando a mão-de-obra intensiva noutros países com menores qualificações, o que tem consequências nos níveis de emprego dos países desenvolvidos. E aí há uma reação da classe média que se sente traída – foi muito claro na eleição do Trump.
Se eu chamar reacionário ao Trump, você não fica surpreendido, e é natural que ele tenha um eleitorado reacionário. O problema é que não foi visto na América, onde estava e onde está a reação. O problema é muito mais profundo, e não sei porque é que as pessoas deixaram de pensar em termos gerais… O problema da América, mais uma vez, é um problema de nacionalidade. A nacionalidade americana está a mudar, os brancos daqui a 20 anos serão uma minoria, fundamentalmente por causa dos latinos, não tanto dos negros. Os negros são americanos e protestantes, enquanto os mexicanos são católicos e falam espanhol.
Os latinos colocam um problema de identidade ou económico?
De identidade. A imagem da América é o anglo-saxão que fala inglês e vai à igreja protestante. Tirando uma pequena maioria que vive em grandes cidades, os brancos não querem os latinos – daí o muro, que é sobretudo uma metáfora, mais do que um obstáculo real. O muro é a metáfora da resistência de uma identidade.
Quando vê o presidente dos EUA comunicar diretamente com o povo através de tweets de 240 carateres, o que é que vê ali?
Há uma passagem por cima dos meios habituais de comunicação. Ele está a dizer duas coisas: está a dizer o que diz e que não precisa dos meios habituais de mediação. O que para um presidente americano é muito importante, porque ele tem ali uma matilha de jornalistas à perna todos os dias, e pode dizer-lhes que não precisa deles. Tenho visto no que deu, mas não sei no que é que isto vai dar, e ninguém sabe como será nas mãos de outro. Pode melhorar a eficácia, pode ser uma coisa mais orientada, mais arquitetada, mais perigosa. O Trump não é um grande político, é um feirante. Um grande político ter as ferramentas que o Trump tem, não sei no que pode dar, porque nunca houve. Nem consigo imaginar. Mas consigo por a seguinte pergunta: o que seriam estas coisas nas mãos do Lyndon Johnson, que era um grande político? O que é que ele teria feito com a guerra do Vietname? Isto é propaganda, diretamente para o eleitor, sem intermediários.
E entretanto a comunicação social luta para manter alguma influência. Qual será o efeito da crise da comunicação social nas democracias que temos? Que democracia existirá sem uma comunicação social forte?
Nunca existiu nenhuma, portanto a gente não sabe. Estas coisas são todas muito novas para se saber que efeito vão ter. Há coisas no mundo em que nós vivemos, no mundo que eu atravessei, que eu não sei como vão acabar, não sei o que significam. Não posso dizer o que será a democracia sem jornais. Uma democracia só com televisões? Não sei. E com televisão de bolso ainda menos…
Porque o jornalismo implica pausa e reflexão?
Mais do que isso: uma hierarquia. Estou a falar dos jornais, não do jornalismo em geral. Os jornais implicam uma disciplina. Eu vi isso quando estive no Observador – os jornais online têm dois infinitos: cabe sempre mais uma notícia e cabe sempre mais uma coluna. Isso é um problema, porque não obriga a escolhas. Cabe tudo, por mais disparatado que seja. Os jornais em papel obrigam a uma disciplina e a uma hierarquia. No online, pode publicar um texto com 300 páginas, é só carregar no botão… Um jornal, não. Um jornal é uma espécie de carta geográfica que você dá ao leitor: a primeira página significa isto, a página ímpar tem mais importância do que a página par – o jornal dá uma direção ao leitor. Eu acredito que os jornais podem ressuscitar por isso, porque têm essa disciplina, dão uma direção.
Portanto, quando eu lhe perguntava como é que será uma democracia sem jornalismo, a sua questão era mesmo outra: como será uma democracia sem jornais?
Queria mesmo dizer: não sei como será uma democracia sem jornais. Vai ser uma coisa muito complicada.
(Vasco Pulido Valente foi entrevistado para a revista Egoísta, tema Democracia, pelo jornalista Filipe Santos Costa)