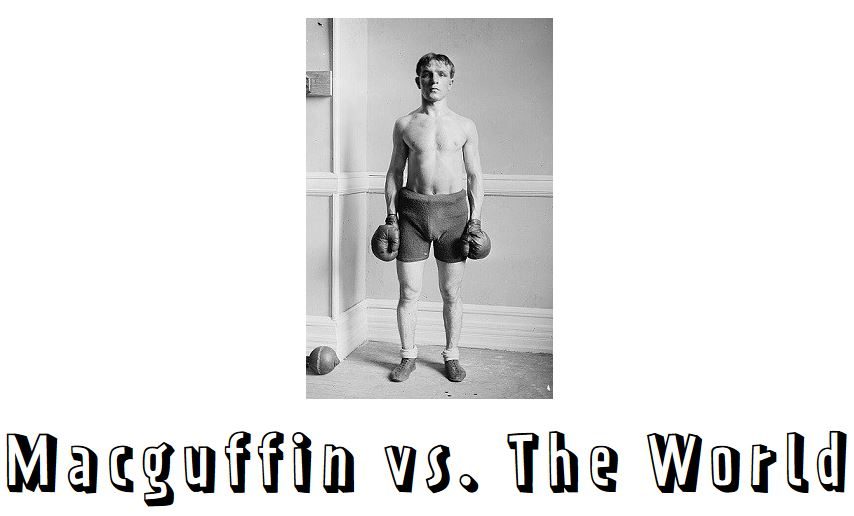Após dezenas de cartas, faxes e telegramas, e de um solitário email que li de soslaio mas cuja primeira frase («Se vieres a Évora este fim-de-semana traz bacalhau de cura amarela») me leva a crer versar sobre a família Raposo, atrevo-me, por fim, ao habitual e popular exercício de comentário politico-sociológico – breve e simplório, comme il faut – sobre o tema do momento: Henrique Raposo e o Alentejo (e vice-versa).
Sobre o caso, cuja gravidade envolve já a mui nobre policia de segurança pública (destacada que foi a comparecer no sempre estimulante evento desportivo olímpico do «lançamento de livros», neste caso possivelmente apetrechada com sensores de bolota), apraz-me dizer o que se segue.
O Henrique Raposo cometeu um erro simplista, muito comum em povos idealistas e imaginativos, provenientes de países exíguos, genética e historicamente estabilizados: achar que os 92.212 km2 que nos calharam em sorte seriam capazes de albergar bolsas regionais idiossincráticas, carregadas de traços psicológicos e sociológicos de grande contraste, cada uma produzindo uma linhagem de seres de comportamento distinto (nalguns casos espectacular e/ou bizarro), merecedoras de um opúsculo sobre hábitos autóctones e de umas declarações definitivas num programa sobre «irritações» (do inglês «rash»).
Muitos dos traços que o Henrique Raposo identifica nos «alentejanos» (e vamos continuar a acreditar que existe essa raça), chegaram ao conhecimento do Henrique em modo «mítico» e sobretudo por interposta pessoa (via testemunho familiar de alentejanos há muito deslocados, ou através de entrevistas que o Henrique Raposo levou a cabo durante algumas semanas.) O conhecimento de facto e in loco do Henrique Raposo provém, por isso, de incursões pontuais e fugazes a terras alentejanas. E isso nota-se.
A prova de que o conhecimento do Henrique sobre o «Alentejo» e os «alentejanos» é deficitário – partindo do duvidoso princípio de que é possível adquirir um conhecimento irrepreensível, certeiro e definitivo sobre «os alentejanos, «os transmontanos», e por aí fora – é facilmente identificável na forma como particulariza a generalização tomando como próprio de alentejanos comportamentos, tiques ou costumes que encontramos amiúde e com facilidade um pouco por todo o país «interior» – ou como os lesboetas gostam de referir: na «província.»
Em bom rigor, o problema do Henrique não está no conhecimento deficitário do «Alentejo» e dos «alentejanos»: está no desconhecimento daquilo a que comummente se denomina de «país real.»
A bestialidade e a rudeza de modos; a tacanhez e a timidez; os preconceitos e os tabus (os novos e os velhos); a propensão para o conformismo e para o fatalismo; a disposição para a suspeição e para a mesquinhez; um certo orgulho regionalista indutor de coisa nenhuma (quase sempre instrumental e do agrado dos caciques); são características difusas e transversais ao povo português (e, já agora, à humanidade em geral) – mais diluídas, metamorfoseadas ou domadas nas grandes cidades; mais acirradas ou concentradas no interior.
O «grande» contraste – se quisermos apelidar de «grande» o que na realidade, no caso português, é modesto – deverá ser encontrado em duas levas: a) entre o interior (o interior da solidão associada ao isolamento; da maior falta de instrução; da falta de meios; da população envelhecida) e o litoral (o litoral dos grandes aglomerados populacionais, cosmopolita e «miscigenado»); b) entre as populações marcadamente rurais e as consolidadamente urbanas.
Sempre, aliás, assim foi.
O Henrique sente-se claramente desapontado com o «Alentejo» e eu compreendo-o. Quem viveu quarenta anos da sua vida em Évora, certamente não esquecerá o que é viver quarenta anos da sua vida em Évora: a inveja mesquinha; o moralismo hipócrita; o maniqueísmo e a mediocridade de boa parte da intelectualidade eborense; a permanente desconfiança em relação a quem ousa estar bem com a vida; o bota-abaixismo; as brincadeiras alarves e tontas; o clientelismo anão dos amigalhaços e funcionários do partido; a estupidez intestina da prole falida dos latifundiários, adepta do touro e da incivilidade; e por aí fora.
Quem viveu quarenta anos da sua vida em Évora, com família espalhada por diversas vilas e aldeias alentejanas, também sabe que por lá encontrou, e ainda hoje encontra, gente genuinamente boa, decente, desempoeirada e livre, que fez da boa-fé, da simplicidade e de uma inocência já perdida, um modo de vida.
Acima de tudo, quem se mantém vivo há mais quarenta anos e tem passado boa parte da sua existência no corredor interior, sabe duas coisas. A primeira: há gente tímida, medrosa, burra e estúpida em todo o lado. A segunda: não é possível criar uma teoria geral sobre a população de uma determinada região de Portugal. Por muito pouco interessante que esta conclusão resulte.
PS: Quanto ao suicídio, deixo a resposta que o meu pai, alentejano de 73 anos, me deu quando lhe perguntei ‘por que razão os alentejanos são mais propensos ao suicídio?’: «porque, provavelmente, são mais inteligentes.»